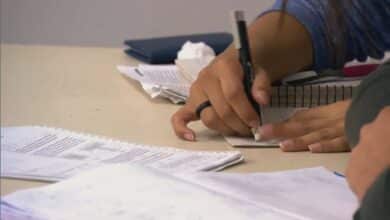Exposição na USP mostra os impactos de construções realizadas na ditadura militar
Manter viva a luta por memória, verdade e justiça é um dos objetivos da exposição
Exposição Paisagem e Poder, um esforço conjunto para abordar as transformações espaciais ocorridas no Brasil durante a ditadura militar (1964-1985).
Mais de 20 mil pessoas perderam suas terras e casas com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, iniciada em 1974. Outras 3 mil pessoas foram expropriadas por causa da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, inaugurada em 1984. O desabamento do Viaduto Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, em 1971, causou 26 mortes.
Essas são algumas informações apresentadas na exposição Paisagem e Poder: Construções do Brasil na Ditadura, em cartaz no Centro MariAntonia da USP até 30 de junho. A partir de um esforço conjunto por parte dos curadores Magaly Pulhez, Paula Dedecca, Victor Próspero, João Fiammenghi e José Lira, a exposição contribui para manter viva a luta por memória, verdade e justiça, desta vez do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, incentivando também a formulação de políticas de reparação e memória.
“Nós temos uma referência muito imediata da ditadura como um período de repressão aos direitos políticos e civis, de violência, tortura e perseguição, mas, do ponto de vista da expressão espacial das políticas, as pesquisas são muito iniciais”, explica Magaly Pulhez, arquiteta e curadora da exposição, ao Jornal da USP.
“As pesquisas sobre as transformações da paisagem e seus impactos ainda estão se constituindo, e pouco se fala sobre terem sido um processo violento. A expansão espacial foi um desdobramento direto das doutrinas autoritárias preconizadas durante o regime. Apesar de representar um contexto de modernização do País, foi uma modernização absolutamente autoritária e conservadora, baseada na exploração do trabalho e na expropriação de terras e recursos naturais. Estudar esse período engloba pensar todos os impactos gerados nele”, completa.
Através de fotografias, filmes, desenhos, diapositivos, revistas, propagandas, mapas, reportagens e documentos técnicos, o visitante é guiado pelos processos de transformação da paisagem brasileira e suas consequências que perduram até a atualidade, muitas vezes ignoradas sob o pretexto da modernização e progresso. As construções expostas, algumas iniciadas antes da ditadura, outras concluídas apenas após seu fim, foram utilizadas pelos militares como propaganda do regime com discursos como “estamos crescendo”, “finalmente, o Brasil grande” e “a Amazônia já era” — no sentido de que finalmente o desenvolvimento estaria alcançando essa região, erroneamente considerada vazia por muitos, inclusive aqueles no poder, segundo Magaly.
“A mentalidade de se expandir o desenvolvimento e conectar as regiões brasileiras levou a uma exploração muito intensa, tanto dos recursos naturais quanto das forças de trabalho. Essas grandes obras de infraestrutura estavam intimamente conectadas a um discurso de ampliação do circuito econômico e da segurança nacional, e são um retrato importante do que se doutrinava no regime”, conta.
Obras como a Rodovia Transamazônica, as hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, avenidas, vias e marginais como o Minhocão, em São Paulo, e a Perimetral, no Rio de Janeiro, as obras do Metrô paulistano e a Ponte Rio-Niterói são apenas algumas das dezenas de obras realizadas no período da ditadura militar que mudaram a dinâmica nacional. Apesar de muito emblemáticas da época, essas obras não são tratadas como ícones na exposição, que buscou chamar a atenção para outros aspectos e consequências do regime.
“Existe uma conexão bastante significativa entre essa expansão desenvolvimentista e a transformação do espaço como um todo, do campo e da cidade. São processos que devem ser pensados em associação, porque tiveram muita influência uns nos outros”, reforça a arquiteta.
A exposição reitera que, apesar de ter sido pintado como um período de grandes avanços tecnológicos e de infraestrutura, ainda assim é “um avanço que se dá de maneira desconectada da realidade da relação entre a indústria e seus trabalhadores, no sentido de que os trabalhadores permanecem rebaixados e desqualificados.
No caso da construção civil, o avanço tecnológico é possibilitado pelo rebaixamento salarial e repressão sindical”, explica a arquiteta. Em textos que acompanham as fotografias e documentos da exposição, esses processos são explicados com maior profundidade, divididos em cinco eixos principais, indissociáveis uns dos outros.
Exposição aborda temas como urbanização, planejamento, circulação
Num dos eixos da mostra, intitulado Urbanização, Planejamento, Circulação, a exposição explica o processo de crescimento populacional, que resultou na compactação de áreas centrais e crescimento da ocupação periférica. “O processo de valorização do solo urbano por meio de construções, como foi o caso das linhas do Metrô em São Paulo, em especial a linha norte-sul, faz com que a população mais empobrecida — em sua maioria a classe trabalhadora — vá buscar outros territórios a serem ocupados. Bairros inteiros foram construídos pelos próprios trabalhadores, que tiveram que arcar com os custos de produção de suas próprias casas por não terem acesso ao programa habitacional do BNH (Banco Nacional de Habitação)”, conta Magaly.
O eixo ainda trata dos planos diretores de desenvolvimento integrado, explicando a consolidação das empresas de engenharia consultiva no País — responsáveis por desenvolver diversos projetos e serviços, como a empresa Hidroservice, que atuou na construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA), do Aeroporto do Galeão, no Rio, e da via elevada Minhocão, em São Paulo.
Outro destaque é o desabamento do Viaduto Paulo de Frontin, no Rio: a obra se iniciou em 1969, apesar de diversos protestos populares, e quando colapsou, matando 26 pessoas, operava em um ritmo de 24 horas de trabalho todos os dias, viabilizado pela precarização das condições de trabalho, segundo os textos apresentados na exposição. O viaduto, assim como grande parte das construções do período, alterou significativamente o ambiente e cotidiano em que foi construído, uma vez que não foi projetado tendo em vista os impactos sociais de sua construção.
Contemplando a construção do Centro Administrativo da Bahia, da Ponte Rio-Niterói, da Avenida Perimetral, no Rio, dos terminais rodoviários de Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) e do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a exposição busca reforçar os impactos de construções que foram projetadas sem considerar os habitantes locais, alterando as dinâmicas urbanas e contribuindo para o aumento da população periférica, tudo possibilitado pela exploração dos operários e simultânea expulsão deles dos centros que ajudavam a construir.
A exposição Paisagem e Poder: Construções do Brasil na Ditadura está em cartaz desde 19 de março até 30 de junho, com visitação de terça a domingo e feriados, das 10h às 18h, no Edifício Joaquim Nabuco do Centro MariAntonia da USP (Rua Maria Antonia, 258, Vila Buarque, região central de São Paulo, próximo às estações Higienópolis-Mackenzie e Santa Cecília do Metrô). Entrada grátis. Mais informações estão disponíveis no site do Centro MariAntonia ou no telefone (11) 3123-5202.
Clique aqui e leia mais sobre a exposição.
Outras informações na seção Educação do Infoflashbr.
Fonte: Jornal da USP